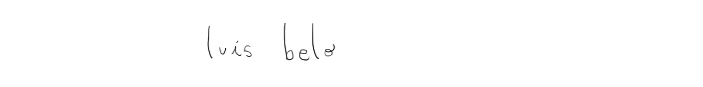De Onde Vêm As Bruxas? Já muitos se terão perguntado, mas a Joana Lopes decidiu ir para lá da pergunta e responder em forma de livro. O resultado é um conto terno, com humor, várias interrogações, mas sobretudo afirmações sobre a vida de bruxa, com uma pitada de lobisomem e curiosidades acerca do que os dragões perguntam a si mesmos. Esse texto valeu-lhe o primeiro lugar entre 1500 participações na 1.ª edição do Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce. Ficou a sabê-lo em Junho. Daí até Setembro era altura do desafio ser lançado aos ilustradores.
Foram cerca de 400 aqueles que responderam à chamada. Eu fui um deles. O universo das bruxas é rico e não demorou muito para que algumas ilustrações surgissem. Fossem elas resultado da leitura directa do texto, fossem interpretações que acrescentavam uma segunda história aquela que lia. As obras, para minha sorte e surpresa, agradaram ao júri (liderado por Zita Seabra, constituía-se por André Letria, Pedro Sousa Pereira, Inês Moura Paes e Sara Miranda), e foi-lhes atribuído o 1.º lugar.
A vitória deste prémio foi anunciada oficialmente durante a Feira do Livro do Porto, numa cerimónia que contou com a presença de Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, Luís Araújo, Director-Geral do Pingo Doce, e uma plateia repleta. Com este prémio chegavam duas notícias que mais pareciam saídas de um conto de fadas: um prémio monetário muito generoso e a publicação do respectivo livro.
Voaram dois meses na companhia da Alêtheia, a editora pela qual o livro seria materializado. Muitas horas de trabalho. Mais horas de trabalho para que todas as ilustrações e palavras tivessem o lugar certo. Um desmaio por falta de sono, rapidamente corrigido. E depois, a primeira prova do livro chegava por correio. Estava bonito. Está bonito, cheira bem. Há livro. Há finalmente um livro onde o meu nome partilha a capa com a ilustração. Dali até que ao lançamento oficial foram apenas uns dias.
Hoje que escrevo é esse dia, 17 de Novembro, 2014.
Oito horas dentro de um autocarro com Lisboa pelo meio e alguns momentos inesquecíveis. O livro foi apresentado numa das salas de teatro mais antigas de Lisboa e das mais bonitas do mundo, o Teatro Nacional de São Carlos. A plateia foi preenchida por várias personagens do livro, por isso, o público subiu ao palco onde uma centena de outras cadeiras os aguardavam. A proximidade entre todos tornou mais íntimo o primeiro momento da cerimónia, o Coro Juvenil de Lisboa acompanhado do Maestro Nuno Lopes, ao piano, interpretou um excerto de uma ópera de Verdi. Pedro Soares dos Santos, Presidente e Administrador-Delegado do Grupo Jerónimo Martins, subiu ao palco para frisar a importância deste prémio e revelar que para o ano, além de Portugal, também existirá uma edição na Colômbia. Depois foi a vez da actriz Filomena Cautela ler, direi, interpretar, alguns excertos do livro. Fê-lo de forma maravilhosa. O momento seguinte pertenceu aos autores, eu e a Joana tivemos a oportunidade de receber o prémio pelas mãos de Nuno Crato, Ministro da Educação e da Ciência e do Director-Geral do Pingo Doce, Luís Araújo. A cerimónia encerrou com uma nova canção do Coro após uma intervenção do Ministro.
O livro está assim, a partir de hoje, disponível em qualquer loja Pingo Doce, onde pode ser adquirido por 3.99€.
Da minha parte, repito os agradecimentos que tornaram tudo isto possível: ao Pingo Doce por criar esta iniciativa e apostar num meio muito rico mas nem sempre devidamente apreciado; aos meus pais que ao longo dos anos apoiaram as minhas decisões, mesmo quando essas decisões passavam por ser ilustrador; à minha namorada, a Ana, que lida e abraça lados de mim que eu próprio desconheço; e aos meus amigos que em conversas, insultos, provocações, desafios e insistências fizeram de mim o que sou hoje.